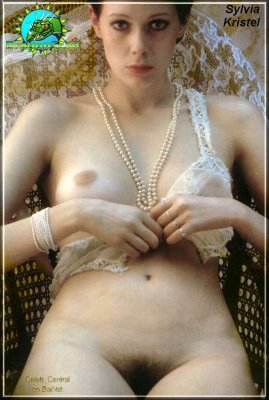SYLVIE KRISTEL
Com Sylvia Kristel em Avança a dirigir um “work shop” sobre “cinema e pintura”, com uma obra realizada por si a abrir o certame, “Topor e Moi”, é altura de recordar uma entrevista com ela em Fevereiro de 1982, e duas críticas a filmes seus aparecidas, uma no “DL”, outra no “DN”. Sem retoques, mantendo o sabor da época.
DO HÁBITO DO CONVENTO
AO NU DE “EMMANUELLE”
Encontro com Sylvia Kristel
DO HÁBITO DO CONVENTO
AO NU DE “EMMANUELLE”
Encontro com Sylvia Kristel
Esperava ir encontrar uma boneca mimada, tomando muito a sério o seu papel de “star sexy”. Encontrei a boneca e a “star”, mas não desmiolada e mimada quanto seria de supor. Encontrei-a no living de uma sumptuosa suite de um dos melhores hotéis de Madrid. Sobre o corpo, um fato cinzento-claro, simples, escorrendo-lhe livre pelas formas que se adivinham a cada movimento. O cabelo curto, um medalhão dourado suspenso de um longo colar, umas botas de cano alto. Sylvia Kristel, “a mulher que educara sexualmente uma geração de espanhóis”, como fora dito no dia anterior, numa conferência de imprensa dedicada aos meios de comunicação social de Espanha, ali estava à minha frente. A Columbia tinha reservado a manhã desse dia para os dois críticos portugueses. José Vaz Pereira já disparara o seu questionário em inglês.
Pelo meu lado, iria preferir o francês. A revelação de “Emmanuelle” fala ainda correntemente o holandês, o italiano, e o alemão. A comunicação é fácil, portanto, ainda que exista algo nela que intimide um pouco. Os largos olhos azuis que nos fitam com alguma insistência? Ou será, muito simplesmente, a forma despreconceituosa e afável como a vedeta recebe a imprensa?
Nascida em Amesterdão, a 28 de Setembro de 1952, Sylvia Kristel começou a trabalhar como tradutora e assistente de um professor universitário antes de aparecer no cinema.
A actriz levava à boca uma garrafa de água (“Bebo três litros por dia”, confessa), quando lhe fizemos a primeira pergunta:
Teria sido “Emmanuelle” o seu primeiro contacto com o cinema?
Na Holanda trabalhei como actriz, quando era ainda muito nova. Como secretária, interessei-me pelo cinema. Um realizador disse-me um dia que tinha possibilidades de ser actriz. Que tinha um rosto clássico, uma figura que poderia ser aproveitada. Mas era preciso ir para a escola. Eu não tinha tempo para isso. Trabalhava. Surgiu, todavia, a hipótese de me inscrever numa agência de modelos. Aceitaram-me. Fiz aí alguns desfiles de modas. Depois houve a eleição para Miss Televisão-Europa. Era um concurso para descobrir apresentadoras de programas da Eurovisão. Concorri e ganhei. Foi então que apareceu Just Jaeckin. O programa fora visto em nove países. Just Jaeckin veio à Holanda para fazer um teste de vídeo comigo. Procurava alguém para “Emannuelle” e ficara impressionado comigo. Eu não sabia porquê. Lera o livro de Emmanuelle Arsan e a protagonista era muito diferente. Na época, eu era loura, muito loura, tipo muito nórdica. Porquê eu? Just Jaeckin disse que não fazia diferença. Que procurava sobretudo uma mulher de uma sensualidade normal. Agradeci e partimos para a Tailândia. Foi aqui que começou a minha carreira “Emmanuelle” foi o meu primeiro trabalho importante.
A sua biografia fala de uma educação religiosa...
A partir dos doze anos estive num convento. Durante quatro anos. Uma educação muito rigorosa. Creio que quem recebe uma educação deste tipo acaba por se transformar numa ateísta. Éramos obrigados a ir para o escola todos os dias às sete menos um quarto. Todas as noites, depois de jantar, era preciso rezar. Eu não era praticante, era mesmo um pouco rebelde...
Acha que a sua carreira como actriz é uma reacção a essa educação?...
Não, creio que não.
Você é lançado num concurso de miss televisão. A propósito desses concursos de misses, fala-se muito da mulher-objecto, da exploração da mulher. Que é que pensa?
Não se tratava de um concurso só de beleza. Era preciso ter outras aptidões. Era preciso dançar, fazer entrevistas sobre vários temas, em várias línguas. Tratava-se de saber se as concorrentes eram capazes de fazer apresentações na Eurovisão. Fiz as provas todas. Tudo ia bem, até que uma senhora da organização informou que a etapa seguinte era desfilar em fato de banho. Então aí eu recusei-me. Estava absolutamente contra. Disse que não desfilaria em fato de banho. Aconteceu o imprevisto: todas desfilaram em fato de banho menos eu, que ia de mini-saia, sapatos pretos, chapéu... Fui a única a desfilar assim. Os membros do júri devem ter apreciado a originalidade, porque me escolheram a mim. Mas realmente eu achava mal desfilar em fato de banho.
Uma holandesa calma
Depois de ter interpretado “Emmanuelle” você passou a ser “Emmanuelle”. Como é que se sente perante esta identificação?
E' terrível para mim. De um dia para o outro passei a ser um símbolo sexual. Enfim, acontecer-me isto a mim, urna calma holandesa...
... uma calma holandesa?...
Sim, uma holandesa calma. Apaixonada, um pouco romântica, eu sei lá, mas quando estou com um homem sou muito monogâmica, muito calma, não participo das teorias de “Emmanuelle”. Foi Sylvia Kristel quem interpretou “Emmanuelle”, nada mais do que isso. Mas as pessoas pensaram logo que Sylvia Kristel “era” “Emmanuelle”. Aproximavam-se de mim, olhavam-me, tocavam-me, perguntavam-me coisas, sei lá que mais. Comecei a sentir-me frustrada. Quero ser aceite pelas minhas próprias capacidades intelectuais, por mim mesma (aqui Sylvia Kristel sorri), não sei se serão muitas, se valerá a pena, mas em todo o caso essa sou eu. E' impossível viver-se na pele de outra, estar sempre a representar um papel...
“Emmanuelle”
Como é que explica o êxito internacional de “Emmanuelle”?
Penso que por vezes aparece um filme quê corresponde a um momento determinado da mentalidade do público, que se transforma rapidamente num grande êxito, num clássico. Toda a gente quer depois fazer filmes iguais. Aconteceu com os filmes de temor. É uma vaga que corresponde a uma necessidade íntima do público de uma certa época. “Emmanuele” foi o primeiro filme erótico a que um casal podia assistir, homem e mulher lado a lado. Sabe que esse filme foi muito apreciado pelas mulheres, um pouco por todo o lado? Isso era um fenómeno novo...
... um erotismo sofisticado, com uma certa qualidade visual...
O realizador foi Just Jaec-kin. Antes de ser cineasta já era artista plástico, pintor, escultor, fotógrafo. E' um homem com um grande sentido plástico.
Não gosto muito. E' demasiado decorativo, exterior, demasiado fotógrafo de modas...
Não será muito profundo, mas é visualmente muito bonito.
À “Emmanuelle” prefiro abertamente a “Emmanuelle 2”.
O realizador era outro, Francis Giacobett. E' um filme mais forte. No primeiro, “Emmanuelle” é uma mulher ainda alienada pelo casamento, não conhecendo todas as raízes da sua vontade. No “Anti-Virgem” é uma mulher madura, adulta, caindo enquanto tal, assumindo o seu corpo e os seus desejos, com toda a sua responsabilidade. Ela comanda, se assim se pode dizer, a estratégia do seu desejo.
Chabrol e “A Vitima Fuga”
Um dos realizadores que a dirigiram em França foi Claude Chabrol, em “Alice, ou a Última Fuga”. Como é ser dirigida por Chabrol? Usa métodos diferentes dos de Just Jaeckin por exemplo?
Sim, Chabrol é mais calmo. Trabalha sempre com a mesma equipa. Interessa-se muito pela comida. Perguntava-lhe o que é que se fazia naquele dia, Chabrol dizia: “Ora vamos lá a ver: é isto, isto, e mais isto.” A atmosfera era calma, serena, de perfeito relax. Passava-se muito tempo á mesa. Eu perguntava-lhe se tinham algo de especial a dizer-me. “Não, tu sabes tudo o que deves fazer.” Fazia como sabia, perguntava-lhe se estava bem. Ele achava sempre que estava bem. “Tu sabes tudo!” Disse-me que eu tinha um talento extraordinário. Havia cenas muito difíceis em “Alice”. Por exemplo: há uma ena em que estou sentada numa mala, não posso sair dali; de repente pode ver-se nos meus olhos que há alguém que se aproxima. Mas está tudo no meu olhar. Não se vê mais nada no écran senão o meu rosto, mas o público apercebe-se do que está para além do écran. Chabrol ficou muito satisfeito com esta cena. Disse-me que era preciso ser muito boa actriz para ser capaz de fazer aquilo. Mas ele construiu suficientemente o meu ego de forma a conseguir isso. Trabalhei maravilhosamente com ele.
E com Just Jaeckin, o realizador de “O Amante de Lady Chatterley”?
Com Just Jaeckin fala-se muito antes de começar a trabalhar. Penso que com “Lady Chatterley*s Lover” fez o seu melhor trabalho até ao momento.
No dia anterior, na conferência de imprensa dedicada aos espanhóis, Sylvia Kristel fora atacada um pouco por todo o lado, de forma um tanto ou quanto impiedosa, com dichotes e comentários saboreados com um sorriso pelo marialvismo de “nuestros hermanos”. Na sala de conferências do mesmo hotel onde nos encontramos agora, jornalistas de imprensa variada, com preponderância dos órgãos de comunicação especializados em espectáculos, escândalos e “correio sentimental”, por entre risos cúmplices, e perante uma certa segurança profissional da vedeta, foi-se sabendo que Sylvia Kristel procurava dar um novo rumo à sua carreira, afastar-se da imagem de “Emmanuelle”, que fora vítima de um colapso financeiro numa empresa que possuía na Bélgica, que vivia com André Djaqui, um dos produtores desta sua ultima obra, que tinha um filho do seu primeiro casamento, com o escritor Hugo Clauss, que habitava presentemente em Hollywood, numa casa onde era vizinha (e amiga) de Bette Davis, que gostaria de interpretar filmes de Saura ou Buñuel, entre os cineastas espanhóis que ela mais admira, que trabalharia de bom grado ao lado de Fernando Rey. Mas as questões foram ainda mais além: como se sentia a rodar cenas de amor com a equipa técnica à sua volta, se preferia ser activa ou passiva durante o acto, se já alguma vez vivera realmente cenas sexuais perante as câmaras, ou se apenas as mimara. Com algum àvontade e por vezes um certo humor (“o que prefiro num, homem é sentido de humor e sensibilidade”, acrescenta), Sylvia Kristel a todos respondera com um ar acossado mal disfarçado, que deixava vir ao de cima uma delicadeza de expressão e de gestos que faz seguramente um pouco do seu fascínio. Intérprete “arrojada” de alguns filmes polémicos, nunca a suavidade e a delicadeza a abandonaram. Vedeta “numero 1” de um certo tipo de cinema, símbolo sexual que, vindo dos anos 70, se apresta para continuar pelos 80, com a mesma impetuosidade e iguais resultados económicos, Sylvia Kristel traz a lição bem estudada, mas não a repete mecanicamente. Há uma ingenuidade (quem diria?) desconcertante nalgumas das suas atitudes. Está em Espanha para lançar na península “O Amante de Lady Chatterley”. Perguntamos-lhe se gosta de personagens como Constance Chatterley, e ela irresistivelmente confessa que do que mais gosta são comédias.
Quando quisemos saber quais os cineastas americanos com quem mais gostaria de trabalhar, há uma certa hesitação. A sua secretaria particular, Julie, uma americana forte que já terá sido certamente o seu apoio noutras ocasiões difíceis, atravessa a sala, e Sylvia lança-lhe o repto: Julie, quais são os cineastas americanos mais jovens com os quais eu gostaria de trabalhar? Julie lança lá do fundo os nomes de Paul Mazursky e Spielberg. Ela limita-se a confirmar os nomes. Depois pergunta-me com real curiosidade Porque é que hoje em dia há tantos realizadores americanos que são ex-stuntmen (duplos)?
“0 Amante de Lady Chatterley”
Voltamos a “O Amante de Lady Chatterley”, um dos mais admiráveis romances de toda a literatura erótica, mas não só. O livro de D. H. Lawrence não é só uma belíssima história de amor, mas igualmente um estudo de uma época, e das suas contradições sociais.
Acha que o filme reflecte por igual essas intenções?
Creio que Just Jaeckin valorizou sobretudo o lado visual. Não se pode fazer tudo num filme. Hoje em dia as pessoas têm tantos problemas em casa, no emprego, por todo o lado, que não se deslocam ao cinema para rever simplesmente esses problemas. Just Jaeckin quis fazer um filme que evoluísse num outro sentido. Criou imagens onde as pessoas pudessem repousar. Uma espécie de férias mentais. Contar uma história de amor numa sinfonia de imagens. Nada de parecido com o lado agressivo de um Ken Russell...
Que também não é um cineasta da minha particular preferência, mas tem um estilo pessoal. As suas “Women in Love” são obviamente superiores.
Ken Russel é muito difícil para as mulheres. É misógino.
Gosta da sua criação de Constance Chatterley?
Foi uma figura muito estudada, muito trabalhada. A personagem tem um passado, uma educação em Dresda, na Alemanha, tem um conhecimento do mundo diferente do do marido. Ela viveu experiências diferentes, não é tão aristocrática quanto o marido, julgo mesmo que não tem as mesmas ideias de Sir Clifford... Isso irá reflectir-se no filme, no seu comportamento...
Identifica - se pessoalmente com alguma figura que tenha interpretado até hoje?
Não de uma forma absoluta, mas há em algumas muita coisa que não repudio, que aceito...
George Cukor e Billy Wilder
Ouvi-a dizer que gostaria de bilhar sob as ordens de Billy Wilder e George Cukor. Porquê estes dois cineastas?
Porque me fazem pensar na época em que na América se faziam grandes comédias... Cukor é mesmo dos melhores cineastas de todos os tempos a trabalhar com actrizes, e a tratar a mulher... É verdade. Compreende agora porque gostaria de trabalhar com ele?
Na Holanda trabalhei como actriz, quando era ainda muito nova. Como secretária, interessei-me pelo cinema. Um realizador disse-me um dia que tinha possibilidades de ser actriz. Que tinha um rosto clássico, uma figura que poderia ser aproveitada. Mas era preciso ir para a escola. Eu não tinha tempo para isso. Trabalhava. Surgiu, todavia, a hipótese de me inscrever numa agência de modelos. Aceitaram-me. Fiz aí alguns desfiles de modas. Depois houve a eleição para Miss Televisão-Europa. Era um concurso para descobrir apresentadoras de programas da Eurovisão. Concorri e ganhei. Foi então que apareceu Just Jaeckin. O programa fora visto em nove países. Just Jaeckin veio à Holanda para fazer um teste de vídeo comigo. Procurava alguém para “Emannuelle” e ficara impressionado comigo. Eu não sabia porquê. Lera o livro de Emmanuelle Arsan e a protagonista era muito diferente. Na época, eu era loura, muito loura, tipo muito nórdica. Porquê eu? Just Jaeckin disse que não fazia diferença. Que procurava sobretudo uma mulher de uma sensualidade normal. Agradeci e partimos para a Tailândia. Foi aqui que começou a minha carreira “Emmanuelle” foi o meu primeiro trabalho importante.
A sua biografia fala de uma educação religiosa...
A partir dos doze anos estive num convento. Durante quatro anos. Uma educação muito rigorosa. Creio que quem recebe uma educação deste tipo acaba por se transformar numa ateísta. Éramos obrigados a ir para o escola todos os dias às sete menos um quarto. Todas as noites, depois de jantar, era preciso rezar. Eu não era praticante, era mesmo um pouco rebelde...
Acha que a sua carreira como actriz é uma reacção a essa educação?...
Não, creio que não.
Você é lançado num concurso de miss televisão. A propósito desses concursos de misses, fala-se muito da mulher-objecto, da exploração da mulher. Que é que pensa?
Não se tratava de um concurso só de beleza. Era preciso ter outras aptidões. Era preciso dançar, fazer entrevistas sobre vários temas, em várias línguas. Tratava-se de saber se as concorrentes eram capazes de fazer apresentações na Eurovisão. Fiz as provas todas. Tudo ia bem, até que uma senhora da organização informou que a etapa seguinte era desfilar em fato de banho. Então aí eu recusei-me. Estava absolutamente contra. Disse que não desfilaria em fato de banho. Aconteceu o imprevisto: todas desfilaram em fato de banho menos eu, que ia de mini-saia, sapatos pretos, chapéu... Fui a única a desfilar assim. Os membros do júri devem ter apreciado a originalidade, porque me escolheram a mim. Mas realmente eu achava mal desfilar em fato de banho.
Uma holandesa calma
Depois de ter interpretado “Emmanuelle” você passou a ser “Emmanuelle”. Como é que se sente perante esta identificação?
E' terrível para mim. De um dia para o outro passei a ser um símbolo sexual. Enfim, acontecer-me isto a mim, urna calma holandesa...
... uma calma holandesa?...
Sim, uma holandesa calma. Apaixonada, um pouco romântica, eu sei lá, mas quando estou com um homem sou muito monogâmica, muito calma, não participo das teorias de “Emmanuelle”. Foi Sylvia Kristel quem interpretou “Emmanuelle”, nada mais do que isso. Mas as pessoas pensaram logo que Sylvia Kristel “era” “Emmanuelle”. Aproximavam-se de mim, olhavam-me, tocavam-me, perguntavam-me coisas, sei lá que mais. Comecei a sentir-me frustrada. Quero ser aceite pelas minhas próprias capacidades intelectuais, por mim mesma (aqui Sylvia Kristel sorri), não sei se serão muitas, se valerá a pena, mas em todo o caso essa sou eu. E' impossível viver-se na pele de outra, estar sempre a representar um papel...
“Emmanuelle”
Como é que explica o êxito internacional de “Emmanuelle”?
Penso que por vezes aparece um filme quê corresponde a um momento determinado da mentalidade do público, que se transforma rapidamente num grande êxito, num clássico. Toda a gente quer depois fazer filmes iguais. Aconteceu com os filmes de temor. É uma vaga que corresponde a uma necessidade íntima do público de uma certa época. “Emmanuele” foi o primeiro filme erótico a que um casal podia assistir, homem e mulher lado a lado. Sabe que esse filme foi muito apreciado pelas mulheres, um pouco por todo o lado? Isso era um fenómeno novo...
... um erotismo sofisticado, com uma certa qualidade visual...
O realizador foi Just Jaec-kin. Antes de ser cineasta já era artista plástico, pintor, escultor, fotógrafo. E' um homem com um grande sentido plástico.
Não gosto muito. E' demasiado decorativo, exterior, demasiado fotógrafo de modas...
Não será muito profundo, mas é visualmente muito bonito.
À “Emmanuelle” prefiro abertamente a “Emmanuelle 2”.
O realizador era outro, Francis Giacobett. E' um filme mais forte. No primeiro, “Emmanuelle” é uma mulher ainda alienada pelo casamento, não conhecendo todas as raízes da sua vontade. No “Anti-Virgem” é uma mulher madura, adulta, caindo enquanto tal, assumindo o seu corpo e os seus desejos, com toda a sua responsabilidade. Ela comanda, se assim se pode dizer, a estratégia do seu desejo.
Chabrol e “A Vitima Fuga”
Um dos realizadores que a dirigiram em França foi Claude Chabrol, em “Alice, ou a Última Fuga”. Como é ser dirigida por Chabrol? Usa métodos diferentes dos de Just Jaeckin por exemplo?
Sim, Chabrol é mais calmo. Trabalha sempre com a mesma equipa. Interessa-se muito pela comida. Perguntava-lhe o que é que se fazia naquele dia, Chabrol dizia: “Ora vamos lá a ver: é isto, isto, e mais isto.” A atmosfera era calma, serena, de perfeito relax. Passava-se muito tempo á mesa. Eu perguntava-lhe se tinham algo de especial a dizer-me. “Não, tu sabes tudo o que deves fazer.” Fazia como sabia, perguntava-lhe se estava bem. Ele achava sempre que estava bem. “Tu sabes tudo!” Disse-me que eu tinha um talento extraordinário. Havia cenas muito difíceis em “Alice”. Por exemplo: há uma ena em que estou sentada numa mala, não posso sair dali; de repente pode ver-se nos meus olhos que há alguém que se aproxima. Mas está tudo no meu olhar. Não se vê mais nada no écran senão o meu rosto, mas o público apercebe-se do que está para além do écran. Chabrol ficou muito satisfeito com esta cena. Disse-me que era preciso ser muito boa actriz para ser capaz de fazer aquilo. Mas ele construiu suficientemente o meu ego de forma a conseguir isso. Trabalhei maravilhosamente com ele.
E com Just Jaeckin, o realizador de “O Amante de Lady Chatterley”?
Com Just Jaeckin fala-se muito antes de começar a trabalhar. Penso que com “Lady Chatterley*s Lover” fez o seu melhor trabalho até ao momento.
No dia anterior, na conferência de imprensa dedicada aos espanhóis, Sylvia Kristel fora atacada um pouco por todo o lado, de forma um tanto ou quanto impiedosa, com dichotes e comentários saboreados com um sorriso pelo marialvismo de “nuestros hermanos”. Na sala de conferências do mesmo hotel onde nos encontramos agora, jornalistas de imprensa variada, com preponderância dos órgãos de comunicação especializados em espectáculos, escândalos e “correio sentimental”, por entre risos cúmplices, e perante uma certa segurança profissional da vedeta, foi-se sabendo que Sylvia Kristel procurava dar um novo rumo à sua carreira, afastar-se da imagem de “Emmanuelle”, que fora vítima de um colapso financeiro numa empresa que possuía na Bélgica, que vivia com André Djaqui, um dos produtores desta sua ultima obra, que tinha um filho do seu primeiro casamento, com o escritor Hugo Clauss, que habitava presentemente em Hollywood, numa casa onde era vizinha (e amiga) de Bette Davis, que gostaria de interpretar filmes de Saura ou Buñuel, entre os cineastas espanhóis que ela mais admira, que trabalharia de bom grado ao lado de Fernando Rey. Mas as questões foram ainda mais além: como se sentia a rodar cenas de amor com a equipa técnica à sua volta, se preferia ser activa ou passiva durante o acto, se já alguma vez vivera realmente cenas sexuais perante as câmaras, ou se apenas as mimara. Com algum àvontade e por vezes um certo humor (“o que prefiro num, homem é sentido de humor e sensibilidade”, acrescenta), Sylvia Kristel a todos respondera com um ar acossado mal disfarçado, que deixava vir ao de cima uma delicadeza de expressão e de gestos que faz seguramente um pouco do seu fascínio. Intérprete “arrojada” de alguns filmes polémicos, nunca a suavidade e a delicadeza a abandonaram. Vedeta “numero 1” de um certo tipo de cinema, símbolo sexual que, vindo dos anos 70, se apresta para continuar pelos 80, com a mesma impetuosidade e iguais resultados económicos, Sylvia Kristel traz a lição bem estudada, mas não a repete mecanicamente. Há uma ingenuidade (quem diria?) desconcertante nalgumas das suas atitudes. Está em Espanha para lançar na península “O Amante de Lady Chatterley”. Perguntamos-lhe se gosta de personagens como Constance Chatterley, e ela irresistivelmente confessa que do que mais gosta são comédias.
Quando quisemos saber quais os cineastas americanos com quem mais gostaria de trabalhar, há uma certa hesitação. A sua secretaria particular, Julie, uma americana forte que já terá sido certamente o seu apoio noutras ocasiões difíceis, atravessa a sala, e Sylvia lança-lhe o repto: Julie, quais são os cineastas americanos mais jovens com os quais eu gostaria de trabalhar? Julie lança lá do fundo os nomes de Paul Mazursky e Spielberg. Ela limita-se a confirmar os nomes. Depois pergunta-me com real curiosidade Porque é que hoje em dia há tantos realizadores americanos que são ex-stuntmen (duplos)?
“0 Amante de Lady Chatterley”
Voltamos a “O Amante de Lady Chatterley”, um dos mais admiráveis romances de toda a literatura erótica, mas não só. O livro de D. H. Lawrence não é só uma belíssima história de amor, mas igualmente um estudo de uma época, e das suas contradições sociais.
Acha que o filme reflecte por igual essas intenções?
Creio que Just Jaeckin valorizou sobretudo o lado visual. Não se pode fazer tudo num filme. Hoje em dia as pessoas têm tantos problemas em casa, no emprego, por todo o lado, que não se deslocam ao cinema para rever simplesmente esses problemas. Just Jaeckin quis fazer um filme que evoluísse num outro sentido. Criou imagens onde as pessoas pudessem repousar. Uma espécie de férias mentais. Contar uma história de amor numa sinfonia de imagens. Nada de parecido com o lado agressivo de um Ken Russell...
Que também não é um cineasta da minha particular preferência, mas tem um estilo pessoal. As suas “Women in Love” são obviamente superiores.
Ken Russel é muito difícil para as mulheres. É misógino.
Gosta da sua criação de Constance Chatterley?
Foi uma figura muito estudada, muito trabalhada. A personagem tem um passado, uma educação em Dresda, na Alemanha, tem um conhecimento do mundo diferente do do marido. Ela viveu experiências diferentes, não é tão aristocrática quanto o marido, julgo mesmo que não tem as mesmas ideias de Sir Clifford... Isso irá reflectir-se no filme, no seu comportamento...
Identifica - se pessoalmente com alguma figura que tenha interpretado até hoje?
Não de uma forma absoluta, mas há em algumas muita coisa que não repudio, que aceito...
George Cukor e Billy Wilder
Ouvi-a dizer que gostaria de bilhar sob as ordens de Billy Wilder e George Cukor. Porquê estes dois cineastas?
Porque me fazem pensar na época em que na América se faziam grandes comédias... Cukor é mesmo dos melhores cineastas de todos os tempos a trabalhar com actrizes, e a tratar a mulher... É verdade. Compreende agora porque gostaria de trabalhar com ele?
Penso que sim.
Sylvia Kristel pormenoriza. Fala dos filmes que gostaria de fazer, comédias como “Quanto mais Quente Melhor”, e tantos outros filmes interpretados por Marilyn Monroe ou Ingrid Begman. Lembro-me que Francis Girod, um cineasta que a dirigiu em “Rénne, la Canne”, a comparara a Katherine Hepburne.
Ah, sim? Sabe, Katherine Hepburne também era meio holandesa. (Depois ri-se, estende o pescoço para cima, aponta a nuca, e diz de uma forma não isenta de certa coqueterie:) Possivelmente somos parecidas na nuca. Na fragilidade. Não sei, mas gosto muito de Hepburne.
Depois de virem à baila os nomes de Marilyn, de Ingrid Bergman, de Hepburne, era fatal perguntar a Sylvia Kristel se ela gostaria de vir a ser uma grande comediante.
Sim, gostar, gostava. Mas não é preciso ganhar Oscars. Para mim já é muito importante o facto de poder trazer para dentro dos cinemas milhões de pessoas, com histórias não agressivas, divertidas se possível. Não tenho muita vontade de fazer grandes estudos. Sou um pouco preguiçosa para estudar agora Shakespeare. Há muito melhores actrizes do que eu para esse tipo de trabalho. Admiro muito uma mulher como Faye Dunaway. Gostaria de caminhar nesse sentido.
Sylvia Kristel partia dentro em breve para a Suécia, onde iria igualmente lançar “O Amante de Lady Chatterley”. Antes, havia-nos confidenciado que gostaria de correr ainda ao Prado, para ver de perto a “Guernica”, de Pablo Picasso, coqueluche actual em Madrid. Teríamos de deixar o hotel, mas antes gostaríamos de saber o que pensava do amor, uma mulher que é tida como uma das grandes amorosas da tela, nestes anos mais recentes.
Ah, l’ Amour!
Ah, l’ Amour!... (Sylvia Kristel lançou-se para trás, reclinando a cabeça no maple onde se encontrava). Para responder a essa pergunta é necessário reflectir um pouco. Creio que o amor precisa de ser compartilhado. Como uma religião. Há pessoas que precisam de se sentir apaixonadas. Como eu, por exemplo. É muito importante para mim. Mesmo quando trabalho, preciso de estar apaixonada. Mas, depois de cinco ou seis meses, começo a enervar-me, a notar pequenos pormenores estúpidos, eu sei, na pessoa com quem vivo, que indicam irremediavelmente que afinal não ê amor, que este já passou. (Faz uma pausa e depois continua:) Se fala de amor, tenho um grande amor pelo meu filho Arthur, pela rainha mãe. Tive um amor profundo por Hugo Clauss, que é o pai do meu filho... Com Ian McShane (outra ligação sua, muito falada na época) foi a catástrofe total. Nunca mais me poderei deixar envolver por uma paixão igual. Perdi imenso peso, fiquei fisicamente esgotada, levei dois anos e meio a recompor-me. Voltei ao cinema agora com “O Amante de Lady Chatterley”, mas para regressar tive de fazer um esforço incrível de concentração. Quando me encontrava sozinha, como por encanto, surgiu André Djaqui, o co-produtor deste filme, que acabaria por entrar na minha vida. Amo-o bastante. É com ele que vivo presentemente.
Para lá dos três filmes da série “Emmanuelle” (o primeiro assinado por Just Jaeckin, o segundo por Francis Giscobetti, o terceiro por François Leterrier). Kristel - que muitos consideram um “monumento” tão célebre como a Torre Eifell ou o Folies Bergere (são os franceses que o dizem) - entrou em muitos outros filmes, dos quais convirá destacar “Une Femme Fidele”, de Roger Vadin; “Alice ou la Derniére Fugive”, de Claude Chabrol; “Rénne, la Canne”, de Francis Girod; “La Marge”, de Walerian Borowcsyz; “O Quinto Mosqueteiro”, de Ken Annakin, este rodado em Viena de Áustria, tendo-se depois radicado em Hollywood, onde se estreou em “Aeroporto 79”, ao lado de Alain Delon, prosseguindo uma carreira que flecte já para a comédia em “A Bomba Nua” ou “Kiss of Gold” (com Tony Curtis) ou “Private Lessons”. “Lady Chatterley's Lover” é o seu regresso à Europa, pelo menos pelo tempo de um filme, já que vive, em Los Angeles e espera rodar seguidamente, sob as ordens de Cukor, um título que procura manter em segredo, mas que poderá muito bem ter algo a ver com uma nova versão de Mata-Hari.
E Portugal, conhece?
Sim, estive no Algarve e em Lisboa.
Gostaria de trabalhar em Portugal, com um realizador português?
Se não fosse um filme especulativo, se fosse um bom argumento, porque não?
Com este por que não deixámos Sylvia Kristel entregue aos cuidados da sua secretária particular e do director da Columbia em Espanha, que a irá levar de fugida até ao Prado, antes de a depositar no aeroporto de Barajas, rumo ao Norte. Há uma voluptuosidade doce no rosto desta mulher que o cinema nem sempre tem aproveitado com grande talento, cremos que nem sempre no melhor sentido. Vítima de uma personagem a que para sempre estará ligada, Sylvia Kristel merece talvez a atenção de um cineasta como George Cukor, que, em lugar de lhe mostrar a pele, procure desvendar um pouco do mistério daquele olhar azul e profundo que tão suavemente envolve todos os que a rodeiam. Sem vedetismos de grande dama, sem pretensiosismos escusados e descabidos, Sylvia Kristel é uma mulher de uma esplendorosa fotogenia, que os anos amadureceram (tem hoje 29 anos e um filho com sete), mas que mantém inalterável uma frescura nada postiça. Os cosméticos não tapam ainda as mazelas do tempo, talvez porque o tempo lhe tenha sido generoso até agora.
Lauro António, Diário de Notícias, de 10 de Fevereiro de 1982
LADY EMMANUELLE
Numa conversa que mantivemos em Madrid com Sylvia Kristel (e de que muito proximamente daremos notícia aos leitores do «DN») a actriz confessou-se demasiado marcada pelo seu trabalho em “Emmanuelle2. A partir do primeiro filme de Just Jaeckin ela quase deixou de ter individualidade própria, para ser conhecida apenas por “Emmanuelle”. E, depois deste filme inicial, Sylvia Kristel ainda interpretaria outros dois da mesma série, o que terá agravado consideravelmente as coisas.
Não será, portanto, de estranhar que a conferência de imprensa dada por ela tenha sido abertamente dominada pelo fantasma de “Emmanuelle”, mesmo que o tema tenha sido o lançamento do seu ultimo título, uma adaptação do romance de D. H. Lawrence, “O Amante de Lady Chatterley”, um outro clássico do erotismo literário, de novo posto em cinema, agora por Just Jaeckin.
Poderia ser injusto este contínuo relembrar de “Emmanuele” numa altura em que a actriz procura evoluir para outras personagens e abordar outros géneros de filmes, mas, no caso de “Lady Chatterley's Lover”, há algo que une essas duas criações, para lá de tudo o mais que as diferencia: Just Jaeckin e a sua estética, de um decorativismo superficial que nunca consegue recriar uma atmosfera humana ou impor uma densidade psicológica. Desse inconveniente se irá ressentir o próprio trabalho de Sylvia Kristel, apenas mais um adereço no cenário. Evoluindo em ambientes muito diferentes dos atravessados pela heroína de Emmanuelle Arsan, Constance Chatterley (e como ela quase todos os demais protagonistas desta violenta história de amor) não assume nunca uma identidade específica, prefigurando-se apenas como uma silhueta na paisagem, sem consistência ou “élan”. Defeito da actriz? Custa-nos a acreditar que seja apenas falha de Sylvia Kristel (que já vimos fazer muito melhor dirigida por outros cineastas, como Chabrol, por exemplo). Inclinamo-nos mais para uma consequência directa do estilo de cinema de Just Jaeckin, que não procura nunca aproveitar as potencialidades intimistas dos seus actores, para lhes preferir passear com a câmara por sobre o rosto e o corpo. Um cinema de superfície, portanto, que o é igualmente ao nível dos conflitos sociais.
“O Amante de Lady Chatterley” não é somente uma história de amor provocante pelas condições em que surge e decorre. Outro grande mérito do livro de D. H. Lawrence, para lá dessa libertação do corpo que pronuncia e reivindica, é o conflito social que deixa entrever. Para Sir Clifford não é gravoso que Constance tenha um amante. Fora ele próprio quem lho sugerira, a partir do momento em que se sabia um destroço de guerra. Mas é-lhe insuportável saber que Constance mantém relações com o seu guarda de caça, dado que não se trata de um homem da mesma condição social e esta promiscuidade social é-lhe bem mais intolerável que toda a possível promiscuidade sexual.
Posta a questão nestes termos, haverá que reconhecer que a Just Jaeckin nunca lhe interessou muito este lado do problema. Para ele bastavam-lhe os castelos e os interiores ingleses, as paisagens verdejantes, os miosótis nos cabelos de Constance e Olàver Mellors, o corpo de Lady Emmanuelle e o do amante de Lady Chatterley. O seu cinema é o de um fotógrafo de modas e, ao que se sabe, nunca um fotógrafo de modas se preocupou com algo mais do que seja valorizar devidamente as aparências. De resto, “O Amante de Lady Chatterley” opta abertamente pelo público sofisticado dos grandes boulevares, desenvolvendo-se sem uma provocação, tudo justificando (inclusive pela escolha dos intérpretes: não é por acaso que é um antipático Shane Briant que interpreta o papel do marido), vivendo essencialmente de belíssimos cenários naturais, bem fotografados por Robert Fraisse. Quanto aos intérpretes, descontada que seja essa tendência para a superficialidade, parece-nos de sublinhar o seu correcto trabalho, valorizando devidamente o de Ann Mitchell, uma excelente enfermeira.
O AMANTE DE LADY CHATTERLEY (Lady Chatterley's Lover), de Just Jaeckin (Ingíaterra, 1981); Argumento: Christopher Wickihg e Just Jaeckin; Música: Stanley Myers e Richard Harvey; Fotografia (technicolor): Robert Fraisse; Intérpretes: Sylvia Kristel, Shane Briant, Nicholas Clay, Ann Mitchell, etc. Distribuição: Columbia; Classificação: Interdito a menores de 13 anos; Estreia; Cinema Monumental (26.1. 1982).
Lauro António, Diário de Notícias, 27 de Janeiro de 1982
Não será, portanto, de estranhar que a conferência de imprensa dada por ela tenha sido abertamente dominada pelo fantasma de “Emmanuelle”, mesmo que o tema tenha sido o lançamento do seu ultimo título, uma adaptação do romance de D. H. Lawrence, “O Amante de Lady Chatterley”, um outro clássico do erotismo literário, de novo posto em cinema, agora por Just Jaeckin.
Poderia ser injusto este contínuo relembrar de “Emmanuele” numa altura em que a actriz procura evoluir para outras personagens e abordar outros géneros de filmes, mas, no caso de “Lady Chatterley's Lover”, há algo que une essas duas criações, para lá de tudo o mais que as diferencia: Just Jaeckin e a sua estética, de um decorativismo superficial que nunca consegue recriar uma atmosfera humana ou impor uma densidade psicológica. Desse inconveniente se irá ressentir o próprio trabalho de Sylvia Kristel, apenas mais um adereço no cenário. Evoluindo em ambientes muito diferentes dos atravessados pela heroína de Emmanuelle Arsan, Constance Chatterley (e como ela quase todos os demais protagonistas desta violenta história de amor) não assume nunca uma identidade específica, prefigurando-se apenas como uma silhueta na paisagem, sem consistência ou “élan”. Defeito da actriz? Custa-nos a acreditar que seja apenas falha de Sylvia Kristel (que já vimos fazer muito melhor dirigida por outros cineastas, como Chabrol, por exemplo). Inclinamo-nos mais para uma consequência directa do estilo de cinema de Just Jaeckin, que não procura nunca aproveitar as potencialidades intimistas dos seus actores, para lhes preferir passear com a câmara por sobre o rosto e o corpo. Um cinema de superfície, portanto, que o é igualmente ao nível dos conflitos sociais.
“O Amante de Lady Chatterley” não é somente uma história de amor provocante pelas condições em que surge e decorre. Outro grande mérito do livro de D. H. Lawrence, para lá dessa libertação do corpo que pronuncia e reivindica, é o conflito social que deixa entrever. Para Sir Clifford não é gravoso que Constance tenha um amante. Fora ele próprio quem lho sugerira, a partir do momento em que se sabia um destroço de guerra. Mas é-lhe insuportável saber que Constance mantém relações com o seu guarda de caça, dado que não se trata de um homem da mesma condição social e esta promiscuidade social é-lhe bem mais intolerável que toda a possível promiscuidade sexual.
Posta a questão nestes termos, haverá que reconhecer que a Just Jaeckin nunca lhe interessou muito este lado do problema. Para ele bastavam-lhe os castelos e os interiores ingleses, as paisagens verdejantes, os miosótis nos cabelos de Constance e Olàver Mellors, o corpo de Lady Emmanuelle e o do amante de Lady Chatterley. O seu cinema é o de um fotógrafo de modas e, ao que se sabe, nunca um fotógrafo de modas se preocupou com algo mais do que seja valorizar devidamente as aparências. De resto, “O Amante de Lady Chatterley” opta abertamente pelo público sofisticado dos grandes boulevares, desenvolvendo-se sem uma provocação, tudo justificando (inclusive pela escolha dos intérpretes: não é por acaso que é um antipático Shane Briant que interpreta o papel do marido), vivendo essencialmente de belíssimos cenários naturais, bem fotografados por Robert Fraisse. Quanto aos intérpretes, descontada que seja essa tendência para a superficialidade, parece-nos de sublinhar o seu correcto trabalho, valorizando devidamente o de Ann Mitchell, uma excelente enfermeira.
O AMANTE DE LADY CHATTERLEY (Lady Chatterley's Lover), de Just Jaeckin (Ingíaterra, 1981); Argumento: Christopher Wickihg e Just Jaeckin; Música: Stanley Myers e Richard Harvey; Fotografia (technicolor): Robert Fraisse; Intérpretes: Sylvia Kristel, Shane Briant, Nicholas Clay, Ann Mitchell, etc. Distribuição: Columbia; Classificação: Interdito a menores de 13 anos; Estreia; Cinema Monumental (26.1. 1982).
Lauro António, Diário de Notícias, 27 de Janeiro de 1982
“EMMANUELLE":
EROTISMO" DE LUXO
COM FUMAÇAS SUBDESENVOLVIDAS
Há filmes pornográficos para os “cinemas de bairro”, há agora o filme pornográfico “de luxo”, para a clientela “snob” das avenidas novas de todas as capitais. Esse filme é obviamente “Emmanuelle”, retirado de um romance famoso de Emmanuelle Arsan. 0 romance é reaccionário e colonialista, mas é profundamente erótico. Literariamente, pode considerar-se um documento invulgar, dado que é extremamente rara uma obra deste tipo, de alta qualidade literária, o que é o caso (referimo-nos, à versão original francesa, dado que desconhecemos a portuguesa que por aí circula presentemente).
Just Jaeckin foi fotógrafo de modas (Marie-Claire e Mademoiselle Age Tendre). “Emmanuelle”, primeiro filme de Jaeckin, é por isso mesmo um filme com fotografia de revista de modas (aqui e ali copiando, mal, a fotografia esbatida de David Hamilton), com meia dúzia de cenas ousadas para a burguesia se entusiasmar. Se não for muito exigente, quer se veja o caso sob um ponto de vista erótico, quer sob um prisma cinematográfico.
De resto, temos a exploração do exotismo (a Indonésia “para turismo ver” e arqueólogo de passeio comer o seu petisco); temos a defesa do colonialismo e da ociosidade do branco (“como é difícil passar estes dias sem fazer nada”; “a arte de não fazer nada”, etc., etc..); temos ainda o erotismo como actividade lúdica “de eleitos”; temos o horror da menina perante a miséria dos autóctones; temos um diálogo profundamente estúpido, naquelas circunstâncias, dado que no livro existe uma outra intensidade e uma outra profundidade intelectual na discussão do tema “libertação da mulher”. Sobre a “libertação da mulher” muito mais se poderia dizer: “Emmanuelle” tenta a sua libertação através do erotismo, mas que dizer das muitas asiáticas que vemos transportando fardos, ou vivendo na mais negra miséria? Será a “libertação da mulher” esse jogo intelectual proposto por “Emmanuelle”?
Desastrosa é ainda a interpretação: Sylvia Kristel pode ser bonita mas é um perfeito desastre como actriz; Alain Cuny é um “Mário” de um ridículo inultrapassável; Daniel Sasky, o marido, é de fugir... E teremos que concluir que o único actor à altura é a contorcionista que, fumando, dá a nota inédita neste espectáculo luxuoso, onde se demonstra que certo erotismo não passa de uma “chatice”. Os 90 minutos de “Emmanuelle” são por vezes dolorosos de passar. Que crítica mais contundente se poderia escrever?
EMMANUELLE, de Just Jaeckin, (França, 1974); Argumento segundo romance de Emmanuelle Arsan; Intérpretes: Sylvie Kristel, Alain Cuny, Marika Green, Daniel Sarky, Jean Coletin, etc. Distribuição: Filmes Ocidente; Estreia: Cinemas Roma e Pathé (17.4.75)
Lauro António, Diário de Lisboa, 26 de Abril de 1975
Just Jaeckin foi fotógrafo de modas (Marie-Claire e Mademoiselle Age Tendre). “Emmanuelle”, primeiro filme de Jaeckin, é por isso mesmo um filme com fotografia de revista de modas (aqui e ali copiando, mal, a fotografia esbatida de David Hamilton), com meia dúzia de cenas ousadas para a burguesia se entusiasmar. Se não for muito exigente, quer se veja o caso sob um ponto de vista erótico, quer sob um prisma cinematográfico.
De resto, temos a exploração do exotismo (a Indonésia “para turismo ver” e arqueólogo de passeio comer o seu petisco); temos a defesa do colonialismo e da ociosidade do branco (“como é difícil passar estes dias sem fazer nada”; “a arte de não fazer nada”, etc., etc..); temos ainda o erotismo como actividade lúdica “de eleitos”; temos o horror da menina perante a miséria dos autóctones; temos um diálogo profundamente estúpido, naquelas circunstâncias, dado que no livro existe uma outra intensidade e uma outra profundidade intelectual na discussão do tema “libertação da mulher”. Sobre a “libertação da mulher” muito mais se poderia dizer: “Emmanuelle” tenta a sua libertação através do erotismo, mas que dizer das muitas asiáticas que vemos transportando fardos, ou vivendo na mais negra miséria? Será a “libertação da mulher” esse jogo intelectual proposto por “Emmanuelle”?
Desastrosa é ainda a interpretação: Sylvia Kristel pode ser bonita mas é um perfeito desastre como actriz; Alain Cuny é um “Mário” de um ridículo inultrapassável; Daniel Sasky, o marido, é de fugir... E teremos que concluir que o único actor à altura é a contorcionista que, fumando, dá a nota inédita neste espectáculo luxuoso, onde se demonstra que certo erotismo não passa de uma “chatice”. Os 90 minutos de “Emmanuelle” são por vezes dolorosos de passar. Que crítica mais contundente se poderia escrever?
EMMANUELLE, de Just Jaeckin, (França, 1974); Argumento segundo romance de Emmanuelle Arsan; Intérpretes: Sylvie Kristel, Alain Cuny, Marika Green, Daniel Sarky, Jean Coletin, etc. Distribuição: Filmes Ocidente; Estreia: Cinemas Roma e Pathé (17.4.75)
Lauro António, Diário de Lisboa, 26 de Abril de 1975